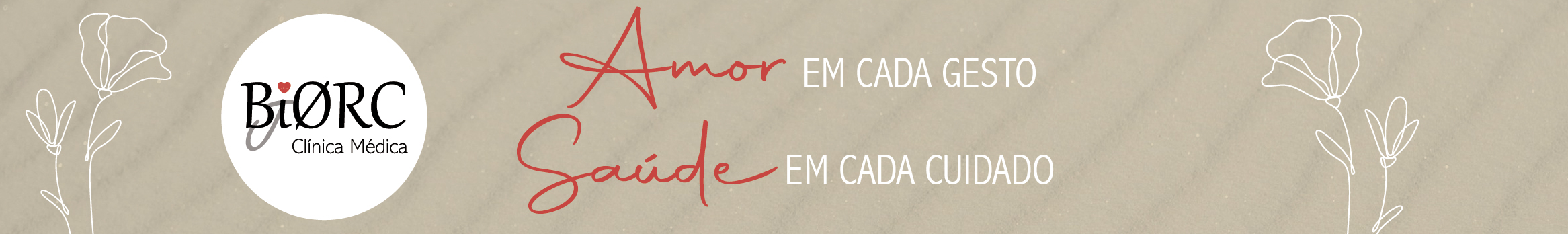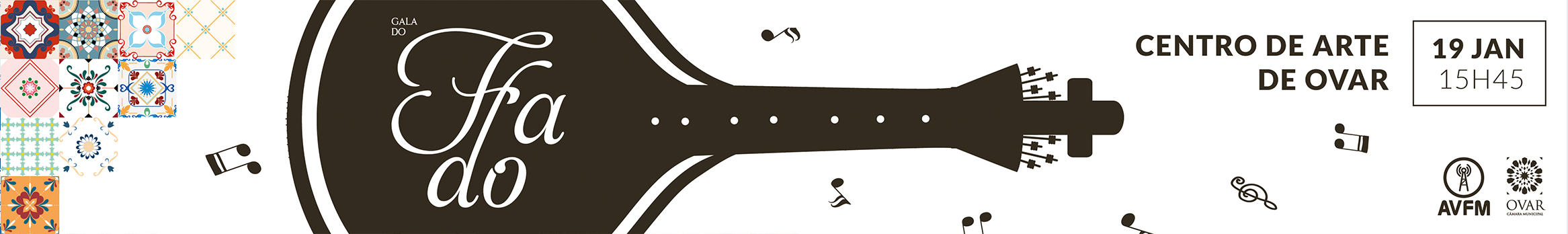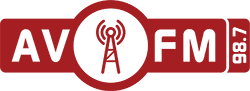Hélder Bruno Quinteto no Centro de Arte de Ovar – Uma História sem Palavras
Escrito por AVfm em 27/01/2023
Logo que ele se senta ao piano, começa uma jornada – eis a primeira coisa de que nos apercebemos ao iniciar o concerto, seguida da sua presença avassaladora, a sua música densa, pungente, o timbre inigualável, a constante paixão, ânimo, impulso que preenchem as suas obras, e sempre uma história. No tempo, de uma emoção, de uma personagem… mas sempre uma história.
E uma história sem palavras.
O palco é só dele e a sua música tudo o que se ouve, tudo o que se precisa de ouvir.
Assim foi no passado dia 20 de janeiro, no Centro de Arte de Ovar, onde Hélder Bruno se propôs a criar um concerto especial para uma terra onde se sente em casa.
É com uma linguagem harmónica extremamente colorida, a paixão de um Einaudi e o êxtase de um Glass que começa o concerto, apenas com Hélder Bruno ao piano, com temas que se tornam cada vez mais extraordinários, peças de tal maneira imersivas que nos entram pelo coração adentro.
Como ele explicou durante o concerto, as suas peças foram feitas para ser ouvidas sem estereótipos, sem preconceito. Tudo o que iria tocar era uma aventura, e que para embarcarmos nesta aventura tínhamos de ter o coração aberto, de nos entregar à música, de confiar no sítio aonde esta nos levará, e eu posso atestar que esse é um sítio magnífico para se ir.

A seguir às duas primeiras interpretações, surgiu uma atuação muito especial: Hélder Bruno dá as boas-vindas no palco à sua própria filha, Maria Martins, uma talentosa violoncelista que acompanhará o pai na próxima peça – uma peça, desta vez, diferente.
Para mim, o que se sentiria nesta peça, era algo deveras interessante, na medida em que contrastava com as duas peças anteriores na história que contava: talvez pela presença do violoncelo, considerado um dos instrumentos mais expressivos devido à sua proximidade com a voz humana. Nesta peça o que se sentia não era uma história no tempo, mas sim a história de um sentimento.
Como se antes nos tivessem mostrado aquilo que o protagonista queria, aquilo que ele queria alcançar, e agora antes nos mostrassem aquilo que o protagonista tinha, aquilo que estava por dentro dele, aquilo que ele carregava no coração como uma constante, pois quão grande fosse o sonho, quão pouco tempo ele tivesse para pensar nesse sentimento, ele estava sempre lá.

Foi na quarta peça que entrou um quinteto de cordas magnífico: o Blossom Ensemble, constituído por Maria Kagan no 1º violino, Francisca Pessanha Pinto-Machado no 2º violino, Rogério Monteiro na viola d’arco, Feodor Kolpashnikov no violoncelo e Miguel Falcão no contrabaixo.
Com a entrada destes músicos, a peça seguinte adquiriria um aspeto que passei a associar muito à obra deste compositor – um caráter não só grandioso e evocativo, mas também cinematográfico.
Aliás, como pude ouvir da própria Maria João depois do concerto, a característica que mais lhe salta à vista na obra deste compositor é, exatamente, esta alusão à música cinemática, que penso que lhe é conferida precisamente pelo seu caráter épico e evolutivo.
No entanto, gostaria de realçar, também, outro facto: que uma comparação à música cinematográfica poderia, também, ter a ver com a harmonia.
Em La Musique au Cinéma, livro da autoria de Michel Chion, ele fala da música atonal como um fator de imprevisibilidade. Uma peça atonal, ou de um modalismo… bem… flutuante, não é a mesma quando inserida num filme: neste caso, esta peça está inserida num contexto dramático forte.
E este contexto dramático forte vai dar-lhe um lugar onde chegar, um caminho a seguir, mas, no entanto, mesmo mostrando o caminho, a música não é o que nos guia, mas sim a narrativa que ela conta. O que eu quero dizer é que, na música de Hélder Bruno, eu sempre senti um pouco de imprevisibilidade na harmonia (numa maneira boa, claro).
Uma peça que eu considero um bom exemplo disto é uma das minhas preferidas deste compositor, Door 17:
O que eu acho verdadeiramente fascinante é essa tal “imprevisibilidade” que eu senti quando ouvi a peça pela primeira vez – porque esta obra começa em sol maior, mas depois transforma-se em ré menor.
E porque é que isto é tão relevante? Porque o compositor podia ter escolhido tonalidades óbvias.
Os tons próximos de sol maior são 5, e nenhum destes é ré menor.
Hélder Bruno poderia simplesmente ter escolhido um deles e pronto, trabalho feito.
Mas não. Escolheu ré menor.
E deu ou não deu uma sonoridade incrível? Uma sonoridade de impasse, de uma quietude delicada, de uma firmeza graciosa, de um ciclo que se mostra uma e outra vez, antes de termos a grande onda que nos levará na nossa jornada, só para depois regressarmos ao nosso pequeno tema agradavelmente imprevisível.
Há, também, outra coisa que eu penso que relaciona a música de Hélder Bruno à cinematografia – quando eu falei de Glass e Einaudi há pouco, não foi só por falar. Eu genuinamente acredito que estas parecenças a estes compositores influenciam a maneira como a música é percebida estilisticamente – porque, coincidência ou não, tanto Philip Glass como Ludovico Einaudi já escreveram banda sonora para filmes.
Quando me refiro a Philip Glass, para mim as parecenças a Hélder Bruno são essencialmente em estrutura e desenvolvimento temático, pois uma das coisas que eu mais adoro em Glass é exatamente a maneira como ele faz o seu desenvolvimento temático.
Na estrutura, ele começa sempre com um tema mais leve, mais pensado, melodioso, mas com um baixo algo ritmado, antes de desenvolver este tema nalgo mais em tensão, modulação, resolução, cadência, emoção, grandiosidade, tudo o que se possa imaginar.
E o que mais me impressiona nisto é que Philip Glass é minimalista (apesar de ele odiar este termo) – a partir de um só tema, ele cria um mundo inteiro de música emocionante e verdadeiramente magnífica.
E, claro, tal como Hélder Bruno, termina com uma reminiscência do início (leia-se: a cereja no topo do bolo).
E entra, em seguida, Ludovico Einaudi, precisamente por uma razão: Philip Glass é minimalista. Por isso, enquanto em estrutura e desenvolvimento temático vejo Glass, nas grandes partes arrebatadoras e que nos enchem por dentro, vejo Einaudi.
Pois Glass transforma o tema, mas Einaudi cria à volta do tema, ou até muda o tema como se fosse o refrão – mesmo derivando ainda do minimalismo, em fusão com outros (e variados) estilos, a maneira de escrever este tipo de passagens é diferente, não se foca tanto no poder da situação, mas sim na inspiração, na pureza, no otimismo – e penso que esta característica de Einaudi se relaciona mais com a música de Hélder Bruno, neste aspeto.

A obra seguinte foi, para mim, um perfeito exemplo de algo que nunca consegui explicar: a forma como há certas peças que nos envolvem.
Com este compositor, senti esse envolvimento desde o início do concerto, com esta peça a atingir o auge nesta particularidade.
Isto não é algo que eu consiga expor claramente, mas é como se mesmo as passagens mais suaves permeassem o nosso corpo adentro, como se vivessem dentro de nós e preenchessem um vazio que nem sabíamos que existia.
Como se a música nos sussurrasse ao ouvido “vou-te mostrar o caminho, vais viajar comigo, e, no fim, vais dar conta que viveste uma nova história.”
Claro que esta é uma história muito subjetiva, algo que o compositor explicou, em entrevista depois do concerto – sendo a Música uma arte tão subjetiva, há não só tantos afetos diferentes que podem passar pela mesma música (porque esta associação está mais no recetor do que na música em si), mas também várias maneiras de analisar a música que ouvimos – como objeto estético, como musicologia pura, ou até como símbolo social (a explicação de Hélder Bruno está no fim do artigo).

Entraria, de seguida, em cena, mais um convidado de Hélder Bruno, o percussionista Quiné Teles – em atividade desde 1982. Este artista tem vindo a participar nas mais diversas iniciativas musicais, desde o jazz até à música popular portuguesa, contando no seu currículo colaborações com artistas como Maria João, Sérgio Godinho, António Pinho Vargas, Pedro Abrunhosa, entre outros.
Desde a primeira peça que este percussionista deixa uma nova impressão, diria até que como mostrando uma nova faceta de Hélder Bruno, pois esta obra mostra-se mais focada no ritmo, este último sendo mais ousado, dinâmico, contrastante.
Aliás, esta peça fez-me lembrar algo precisamente devido ao ritmo, que acho que é uma ligação interessante – o ritmo fez-me lembrar, um pouco, tango. Mas não o tango na sua forma plena que conhecemos hoje, e sim o tango na maneira como surgiu.
Isto porque, quando o tango surgiu, era muito alegre (o que é muito bem retratado pelo primeiro andamento de L’Histoire du Tango, de Astor Piazzolla, Bordel 1900). Era animado, gracioso, cheio de vivacidade, e acho que isto transpareceu um pouco nesta peça.
O que acho interessante neste facto é a ligação do compositor à etnomusicologia, que foi o objeto do seu doutoramento – como o compositor confirmaria, também, na entrevista, a etnomusicologia afeta a sua obra, no sentido em que esta ciência estuda uma dimensão do ser humano que permite complementar a maneira como nos vemos a nós próprios, aos outros, e também aos fenómenos sociais que podemos verificar.
Para além disso, Hélder Bruno realçou a importância do estudo da etnomusicologia como uma maneira de estimular os afetos e os sentimentos que transparecem sempre na sua música, e, também, da característica muito importante que já foi aqui falada de levar os seus ouvintes numa viagem interior, a partir do seu próprio imaginário.
Em seguida experienciaríamos uma peça extraordinariamente contemplativa, que demonstrava um caráter mais suave, emblemático, mais nostálgico, até como se florescesse uma memória à flor da pele e esta nos fosse mostrada ao longo da peça, os afetos que lhes estavam associados também, até que, no fim, a ouvíamos outra vez, simples, mas desta vez com aceitação. Guardando-a no passado, apenas apreciando o facto de ela existir.
Posteriormente, entraria em palco a grande Maria João, com a sua voz inconfundível, sonhadora, abstrata, e de imediato traria à música que ouvíamos um nível completamente diferente de expressividade, uma textura vivaz, profunda, o sentimento de que estamos a ouvir um sigilo, um murmúrio de liberdade, de uma alegria cristalina. Como se Maria João encarnasse uma pequena rapariguinha a correr pelo campo com a sua boneca de brincar, na sua inocência, na sua plenitude – e, claro, Maria João torna isso extremamente especial.

Os seus gestos fluem, a sua expressão é sempre de fulgor… na verdade, Maria João faz-me sempre lembrar Sempre Libera, uma ária de La Traviata.
E isto precisamente pela maneira como se move, espontânea e despreocupada, como nela reina sempre a folia e o divertimento, por toda a energia que ela demonstra constantemente, pela maneira única e arrojada como se expressa, porque para mim ela transpira vivacidade, e transmite vivacidade a todos os que a ouvem cantar, até todos os que falam com ela – e, para mim, é exatamente esse o carisma dela.
Por isso… sim. Consigo imaginá-la perfeitamente a cantar, encantadora e confiante, numa sala enorme, movendo-se graciosamente, e de uma coisa tenho a certeza: no fim, seja quem for que a ouvisse, batia palmas.

Nesta peça, Quiné Teles assume ainda um papel muito importante, que já tem vindo a desempenhar em obras anteriores – com todas as camadas que ouvimos, a música torna-se algo aérea: assim, Quiné consegue prender a peça ao presente, destacando ainda mais a viagem interior que experienciamos com ela.
Na obra seguinte, ser-nos-ia demonstrada, por parte de Maria João, uma técnica muito interessante – a de sonoplastia. Uma técnica normalmente realizada com instrumentos propriamente ditos (isto soou meio estranho, por isso é melhor clarificar: a voz é um instrumento, e um instrumento muito bonito, mas o que eu queria dizer é instrumentos que não estão dentro do nosso corpo), é surpreendentemente realizada apenas a partir da voz da grande Maria João, que transforma a peça num sem-número de diferentes camadas e retalhos, como se de musicar uma vida se tratasse, como se se ouvisse a eterna canção de tudo o que ouvimos passivamente todo o santo dia, e que chamamos de ruído. Só que em vez disso, transformávamo-lo em Música.
E, afinal de contas, não é isso que os génios fazem? Aquilo que nos toca?
A obra continua, cada vez mais um sabor a dimensão, a plenitude, a evolução, a contraste, e quando ela acaba, percebemos que Maria João e Hélder Bruno se relacionam por uma simples afirmação: a música é uma aventura.

Depois de uma peça mais uma vez grandiosa e denotadamente expressiva, desta vez acompanhada pela cantora, o que lhe daria um sabor experimental desde o dueto inicial entre ela e Quiné, passaríamos à história de Rafael, contada de um modo quase ciciado.
Doçura e ingenuidade penetravam a história de Rafael, da sua mãe e a sua candura, de como ele apanhou o maior peixe do mundo para saciar a sua fome. E, honestamente? Foi tocante.
Algo que foi encapsulado por esta peça, e que é algo também muito especial, foi uma referência a Moçambique.
Isto porque, no álbum de Hélder Bruno que dá nome ao concerto, “Under a Water Sky”, a faixa em que Maria João participa é a última, Land, Red and Warm, que foi objeto de uma interpretação muito particular por parte da cantora – Maria João compreendeu o caráter leve e gaiato da peça como uma reminiscência às suas raízes africanas por parte da mãe, a Moçambique, Maputo em particular.

Em seguida, Maria João demonstra-nos uma faceta completamente díspar do que ouvimos anteriormente, com Mouraria, uma canção, desta vez, parte da nossa própria etnomusicologia. Este fado demonstra na perfeição uma paixão aguda na voz de Maria João, uma potência e uma emoção dolorosas, como se o coração inocente de criança que Maria João nos tinha exposto anteriormente se tivesse metamorfoseado, amadurecido nalguém mais sábio, com mais vivências, sim, mais vivências, mas algumas tão amarguradas que levaram a sua credulidade juvenil com elas. Hélder Bruno mostra-se profundamente lírico e marcado, levando a canção até ao fim enquanto usa pequenas melodias remanescentes daquilo que já ouvimos antes, mas desta vez mais incertos, místicos até, terminando de uma forma vaga.
Como terminará a nossa viagem?
Hélder Bruno respondeu a essa pergunta com um tema que nós já tínhamos ouvido. Teríamos, então, voltado ao mesmo sítio?
Não. Os instrumentos adicionavam-se à peça, tornando-a cada vez maior, mais comovente, sim, íamos, afinal, chegar ao nosso destino, um destino cada vez mais orquestral, mais épico, sim, íamos chegar a um destino que nunca esqueceríamos, ao fim de um ciclo.
Um ciclo magnífico.
Então, como posso acabar este artigo senão dizendo: que viagem que foi.
Passámos por tantos lugares, recebemos tanta música, partilhámos tantas emoções… o que mais é que se quer da nossa imaginação?
Da nossa imaginação, não sei, mas acho que podemos concordar numa coisa – é uma enorme dádiva e honra ter um compositor como Hélder Bruno para nos fazer sentir, para nos preencher por dentro. E também uma enorme fortuna em ter tantos intérpretes maravilhosos a transmitir-nos a música dele.
Esperemos apenas que haja sempre pessoas como eles por perto.

Entrevista a Hélder Bruno
Além do registo áudio de uma entrevista com Hélder Bruno, que pode ser escutada acima clicando no player respetivo, em baixo ficam os registos fotográficos deste concerto da autoria de António Dias:
[give_form id=”81006″]

 AVfm
AVfm